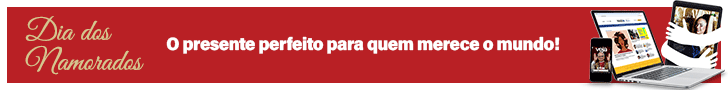Estacionei o carro numa rua tranquila de bairro, com boa sombra, e andei duas quadras para arriscar um palpite na Mega-Sena. Voltei milionário, imaginando como distribuiria o dinheiro e faria as aplicações da bolada.
Entrei no carro, dei a partida, e estava ajeitando o cinto de segurança quando se materializou no retângulo da janela um homem talvez jovem, sujo de rua, magrelo, sem alguns dentes, à espera. Mais um coitado do que uma ameaça. Havia espaço para eu sair fora, mas a circunstância de estar momentaneamente milionário me levou a procurar um dinheirinho para o rapaz.
Cata nas gavetinhas do carro, cata nos bolsos, e a busca só produziu uma moeda de 25 centavos, que estendi para o rapaz com uma cara de sinto muito é só o que há. A cara dele não foi só de decepção, foi também de vítima do sistema, que se traduziu em reclamação:
“Tá difícil ser flanelinha neste país”.
Ora veja. Como se eu estivesse explorando um pobre trabalhador, pagando uma miséria por um serviço prestado. Aí a indignação foi minha:
“Se não quer, devolve. Que flanelinha o quê, rapaz… Nem estava aqui quando eu cheguei. Me fez algum favor? Algum serviço?
Diante da palavra serviço ele me olhou como se tivesse ouvido coisa sem propósito. E foi-se afastando, braços resmungões.
“Tem de encarar a realidade, rapaz. Você é pedinte, não é flanelinha”.
Não falei alto, espero que não me tenha ouvido. Consciência do seu papel era o de que ele menos precisava naquela situação.
Fiquei pensando nos flanelinhas. Eles não chegaram de repente como gafanhotos, não foi uma onda. Vieram vindo. Há uns 45 anos, ou mais, a classe média que começou a comprar automóvel lavava o carro na porta de casa. Não havia lava-rápido. Sábado e domingo de manhã eram dias de lavar carro no portão. Alguns davam um brilho com cera e se afastavam uns passos para admirar a beleza. Quem podia lavava no posto. Os ricos tinham motoristas que faziam isso por eles.
Começaram a aparecer uns rapazes esforçados, com baldes e panos, nas ruas, praças e outros locais onde os carros estacionavam.
“Quer lavar, doutor? No capricho”.
Por uns trocados, lavavam o carro. Você estacionava, ia fazer suas coisas e quando voltava o carro estava “jóia”, “joinha”. Com o tempo, o preço começou a subir, o serviço passou a ser fracionado: podia-se lavar só os pneus, com escova e sabão, e óleo queimado depois, para ficarem brilhando; podia-se lavar só os vidros e os cromados; ou fazer uma “completa”. Os lavadores de carro foram aumentando, já identificados mais pela flanela na mão do que pelos baldes e panos, e rivalizavam e brigavam entre si. Para atrair os motoristas, que cresciam rapidamente em número, eles disputavam vagas agitando a flanelinha, ajudavam nas manobras. Passado mais algum tempo, e multiplicado o número de carros, a briga passou a ser pela vaga, não pelo serviço. Vai perguntar hoje se algum flanelinha quer lavar o seu carro… Nem flanela eles usam mais. Organizaram-se em gangues. Com a multiplicação dos furtos de carros e nos carros, a função deles mudou, oferecem-se como guardadores.
“Quer que olhe, doutor?”
Ai de você se não quiser. Antes, a paga podia ser um trocado, agora tem preço fixo alto, dependendo do lugar e do evento. Nem por isso o seu carro está guardado. Alguns fazem que não veem os ladrões, outros se associaram a eles.
A praga dos guardadores de carros espalhou-se pelo país. Um dia, numa pequena cidade histórica de Minas, estacionei o carro no largo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Logo veio um menininho, miudeza de seus 8 anos:
“Pode olhar o carro, moço?”
Brinquei:
“Nossa Senhora já está olhando.”
E ele, mineirinho:
“Eu ajudo ela.”


 Justiça condena mulher por racismo contra enfermeira
Justiça condena mulher por racismo contra enfermeira