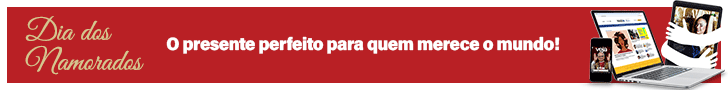Diretoras de um novo tempo: as mulheres em destaque no cinema nacional
Entre nomes consagrados, como Anna Muylaert e Petra Costa, e estreantes, caso de Dira Paes, diretoras apresentam histórias de cunho social e político

O país vive um momento de celebração em torno do cinema. Fernanda Torres e a história de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, acenderam uma chama nacional de esperança na corrida pelo primeiro Oscar do Brasil. A possibilidade de uma indicação na categoria de melhor atriz, repetindo o feito da mãe, Fernanda Montenegro, nomeada pela performance em Central do Brasil (1998), tem mobilizado os brasileiros.
No último ano, as mulheres brilharam também atrás das câmeras. As cineastas apresentam projetos com propostas políticas, sociais, feministas, ambientais e antirracistas e reivindicam seu espaço.
O dado mais recente da Ancine, de 2019, sobre a diversidade de raça e gênero, aponta para uma porcentagem de apenas 19,7% de mulheres no comando de longas no ano anterior. No caso de pessoas negras que lançaram filmes nesse período, o índice cai para 2,8%, sendo que nenhuma delas era mulher.
“A gente tem uma produção riquíssima e está vivendo, talvez, o melhor momento”, analisa a cineasta baiana Viviane Ferreira, 39, que foi presidente da Spcine até fevereiro de 2024 e deixou o cargo para voltar aos sets de filmagem. “É preciso que essa abundância seja transformada em ferramentas de acesso.”
A produtora e diretora indígena Priscila Tapajowara, 31, luta por outro recorte: “Ainda vejo uma barreira regional, o mercado não tem tanta abertura fora do eixo Rio-São Paulo”.
Reunimos seis talentos que personificam um novo tempo e dão continuidade ao legado de pioneiras como Cármen Santos (1904-1952), Norma Bengell (1935-2013), Helena Ignez, Ana Carolina, Sandra Werneck e Laís Bodanzky.
Anna Muylaert

“A sociedade está abrindo espaço para a mulher.”
Uma das mais consagradas e queridas diretoras da atualidade, Anna Muylaert, 60, voltou no ano passado com O Clube das Mulheres de Negócios. Um testemunho de sua irreverência cinematográfica, o longa tem como premissa a inversão nos papéis de gênero.
A ideia surgiu por volta de 2015, quando ela divulgava um de seus sucessos, Que Horas Ela Volta?, pelo mundo. “Quanto mais retorno financeiro tive com o meu trabalho, mais senti a pressão do machismo”, conta. “O filme tenta ser incômodo, como uma maneira de dizer: ‘A gente não aguenta mais’.”
O que desperta a atenção de Anna no cinema varia entre a ironia e o lirismo. “Gosto de personagens com sangue.” Trabalhos que a impressionaram recentemente incluem Anatomia de uma Queda e Triângulo da Tristeza, além de ser entusiasta da obra de Juliana Rojas, André Novais, Anita Rocha da Silveira e Kleber Mendonça Filho.

A diretora paulistana teve vontade de filmar pela primeira vez na juventude, quando seu avô, Durval, recebeu o diagnóstico de um câncer, na intenção de imortalizá-lo com a câmera. Aos 13, Anna descobriu o cinema e começou a frequentar o Cine Bijou, na Praça Roosevelt. Foi o italiano Federico Fellini que lhe despertou o desejo de fazer um filme.
Em 1980, começou a estudar cinema na Escola de Comunicação e Artes da USP. “Os meus professores diziam que a gente precisava estar preparado para ser caixa de supermercado”, lembra.
No fim dos anos 90, houve uma guinada e muitos talentos apareceram. As mulheres dominavam, mas foram “colocadas no cercadinho” quando começou a dar dinheiro. Desde 2017, “houve uma consciência social”, com a paridade no júri do fundo setorial e as cotas nos editais.
A diretora, que se considera “uma pessoa com muita energia”, tem mais um filme pronto e deve rodar outro no primeiro semestre, na Amazônia, uma adaptação de Geni e o Zepelim. “Depois, vou fazer um ano sabático. Preciso zerar a página, voltar para o grande silêncio e me descobrir de novo.” Com a saída do segundo filho de casa, o futuro está em aberto, até com chance de fazer teatro.
Dira Paes

“Essa leva de diretoras brasileiras é de uma potência sem volta.”
Estrela nacional indiscutível, Dira Paes, 55, assumiu a labuta também atrás das câmeras. Disponível no Globoplay,
Pasárgada marca uma imersão completa da artista em um projeto, assinando direção, roteiro e produção e como protagonista do elenco.
“Foi como uma espécie de pós-graduação”, brinca. “Abracei a causa e virou uma questão visceral. Ia dormir e acordava pensando nisso. A maturidade me deu vontade de voar. Tinha um desejo de fazer o que não fiz.”
Na trama, ela interpreta a ornitóloga Irene, que realiza um mapeamento de pássaros em Macaé (RJ), usado pelo contrabando internacional para localizar espécies. Com o sentimento de solidão e insatisfação, a personagem passa a se questionar sobre a vida.

O enredo conversa com a origem de Dira, nascida em Abaetetuba, cidade amazônica do Pará. “Despertei para o ativismo jovem, antes de ser atriz. A pauta ambiental tem a ver com tudo”, afirma.
Sua carreira nas artes dramáticas teve início quando foi selecionada pelo produtor John Boorman para o filme americano A Floresta das Esmeraldas, em 1985. Desde então, seu nome deslanchou no audiovisual brasileiro.
A intérprete de Solineuza, do seriado A Diarista (2004-2007), da TV Globo, enfrentou o desafio da direção com um misto de dor e prazer. “Era uma tensão diária a demanda da decisão”, comenta.
Dira ama filmes imprevisíveis e tem uma boa relação com outros nomes da indústria, incluindo alguns desta reportagem. No último ano, viajou a Veneza como parte do elenco de Manas, de Marianna Brennand (leia mais abaixo).
Também sente admiração por Anna Muylaert. “Tenho muita vontade de trabalhar com ela. Talvez o camarim da Vejinha tenha feito a conexão, vamos aguardar”, afirma.
Outro desejo da paraense é filmar em seu estado natal. “A gente não pode esquecer das pioneiras, que abriram caminhos. Mulheres potentes que fizeram a gente ir ao cinema. Essas mulheres nunca são só diretoras. São tudo, inclusive diretoras.”
Sabrina Fidalgo

“Meu objetivo é trazer para a tela pessoas que foram apagadas na história.”
O cinema entrou cedo na vida de Sabrina Fidalgo, 42. Desde pequena, ela ia ao cinema com os pais, Alzira (1949 2011) e Ubirajara Fidalgo (1949-1986), fundadores do Teatro Profissional do Negro. “Tenho memórias no cinema de quando tinha 4 anos”, diz.
Nascida em um lar cinéfilo no Rio de Janeiro, a fagulha da sétima arte atingiu-lhe de vez quando assistiu a O Mágico de Oz (1939). “Fiquei maravilhada. Tinha 6 ou 7 anos, ali percebi que queria trabalhar com cinema.”
Por um tempo, pensava em ser atriz, mas mudou a rota. “Teria que me sujeitar a poucos papéis de subserviência. Não me sentia à vontade atuando.” Decidiu ir estudar na Europa. Ao retornar, em 2009, montou uma produtora com a mãe e inaugurou seu repertório atrás das câmeras. Em 2020, tornou-se a primeira mulher negra a presidir o júri do Festival de Gramado.

Hoje, seus projetos estão a todo vapor. Em parceria com a Gullane, lança neste ano seu primeiro longa, cujo título provisório é Time to Change (Hora de Mudar, em tradução livre).
O documentário investiga o desdobramento do projeto colonial europeu de exploração e supremacia branca em todo o mundo até hoje. Com o fotógrafo suíço Yvan Rodic, ela se encontra com personalidades como Djamila Ribeiro, Joice Berth e Grada Kilomba.
Sabrina também está escrevendo o roteiro de sua primeira ficção, por ora intitulada Karnaval, com Cauã Reymond, Elisa Lucinda e Thainá Duarte confirmados no elenco. O filme encerra uma trilogia da diretora sobre a folia brasileira e faz um retrato das mulheres na ocasião. “Meu objetivo é trazer para a tela pessoas que se parecem comigo, que foram apagadas na história”, comenta.
Algumas de suas referências são as afro-francesas Mati Diop e Alice Diop e o cearense Karim Aïnouz. Para os próximos anos, pretende seguir trabalhando com ficção e se aventurar em outras áreas, como televisão, teatro e artes visuais.
Marianna Brennand

“O cinema tem a capacidade de gerar empatia e conexão.”
Por onde passa, o filme de Marianna Brennand, 44, é um sucesso absoluto. Manas estreou no Festival de Veneza e ganhou o título de melhor direção na Giornate degli Autori, seção independente de novos cineastas, tornando-se a primeira brasileira a vencer na categoria.
O longa narra a história de uma jovem de 13 anos, moradora de uma comunidade ribeirinha na Ilha de Marajó, inserida em um contexto repleto de violências, que decide confrontá-lo.
A ideia surgiu há dez anos, durante uma conversa de Marianna com a cantora Fafá de Belém, que lhe contou sobre a exploração sexual de crianças na região. “Meu primeiro ímpeto foi fazer um documentário de denúncia, mas seria eticamente impossível levar as vítimas para a frente das câmeras e fazê-las recontar.”

A intenção da cineasta brasiliense não era chocar ou afastar o espectador, mas sim aproximá-lo e tentar gerar transformação por meio da empatia. Essa abordagem refletiu no roteiro e comoveu atores consagrados, como Dira Paes e Rômulo Braga, a participar, junto de um elenco local de crianças.
Marianna estudou cinema na Universidade da Califórnia (Estados Unidos) e ganhou destaque com os longas documentais O Coco, a Roda, o Pnêu e o Farol (2007) e Francisco Brennand (2012), sobre o renomado artista brasileiro — e seu tio-avô.
“Quando eu comecei, estávamos em um momento bom. Passamos por quatro anos difíceis para o país e o ano de 2024 marca esse renascimento, a retomada da autoestima e do orgulho de ser brasileiro.” Tem como grande inspiração nomes nacionais, como Sandra Kogut, Walter Salles, Laís Bodanzky e Cacá Diegues.
A realização do Manas, que estreia em maio, despertou na diretora um desejo de fazer uma nova ficção, adaptada de uma obra literária, em paralelo com a missão de presidir o conselho da Oficina Francisco Brennand.
Petra Costa

“Ainda Estou Aqui é o reencontro do Brasil consigo mesmo.”
“Fui sequestrada pela política do Brasil.” É assim que Petra Costa, 41, descreve os anos recentes de sua trajetória. O novo exemplar da vertente de trabalho é Apocalipse nos Trópicos, que será lançado na Netflix neste ano e aborda a influência exercida por líderes religiosos na política do Brasil. Estreou no Festival de Veneza e foi exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e no Festival do Rio.
A ideia para a produção surgiu durante as gravações do renomado Democracia em Vertigem (2019), que recebeu indicação ao Oscar de melhor documentário de longa-metragem.
“Em 2016, com o impeachment, fui para o Congresso querendo entender o que ia acontecer e encontrei um grupo de fiéis abençoando as cadeiras dos congressistas e falando línguas”, relata. Essa é a cena de abertura do documentário. O assunto ficou guardado na gaveta até a pandemia, quando, segundo ela, a onipresença evangélica se fortaleceu, com pastores dizendo que Jesus curava a covid-19.

Daí surgiu um dos personagens principais do longa, o pastor Silas Malafaia. “As eleições de 2022 se transformaram em uma verdadeira guerra santa.” Sobre o cenário da cultura nos últimos anos, Petra declara: “A gente sofreu quatro anos de uma Presidência que só atacava mulheres, eu fui uma das vítimas”.
Nascida em Belo Horizonte, ingressou, aos 17, no curso de artes cênicas da USP. Teve experiência acadêmica fora do país e, quando voltou, em 2007, passou a se dedicar ao cinema.
Seu primeiro longa foi Elena (2012), sobre a história da perda de sua irmã. “Na época em que gravei, o lado pessoal era político. Com a democracia em risco, o político virou muito pessoal. Elena era sobre a dor de perder uma irmã. Democracia e Apocalipse são sobre a dor de perder um país.”
Em meio às dificuldades, a documentarista celebra o bom momento. “Estou muito feliz pelo Ainda Estou Aqui. A sensação de catarse que esse filme está gerando é o reencontro do Brasil consigo mesmo. Sonhei por muito tempo com uma obra que nos coloca a par com a violência da ditadura.”
A cineasta dedica-se agora a fazer um faroeste, num misto de ficção e realidade.
Patrícia Fróes

“Segurem a onda, vocês ainda vão ter que ver muito filme de mulher.”
Patrícia Fróes, 40, decidiu fazer o longa Incondicional: o Mito da Maternidade para mostrar a outras mulheres que elas não estão sozinhas. “É um filme que me fez muita falta, que queria ter visto quando fui mãe”, explica.
A carioca conta que se sentiu enganada com a maternidade, pois não teve um apaixonamento instantâneo nem a sensação de mágica e plenitude. Recebeu o diagnóstico de baby blues (um distúrbio emocional pós-parto) e descobriu que o transtorno atinge mais de 80% das mães. “Fiquei pensando por que ninguém nunca tinha feito um filme sobre isso. O único com o qual me identificava era Uma Mulher sob Influência (1974).”
Quando decidiu tirar o projeto do papel, anunciou em um grupo no Facebook que estava à procura de relatos semelhantes e se surpreendeu: recebeu mais de 500 e-mails em duas horas. “A morosidade do cinema no Brasil, no final, foi bom, senão o filme teria sido sobre puerpério. Deu tempo para ganhar dimensão social do problema e se tornou um assunto global urgente e tema do Enem no ano passado.”

O filme, apresentado em primeira pessoa, reúne nove entrevistas, incluindo a de sua mãe, a crítica de gastronomia do jornal O Globo, Luciana Fróes. “Me identifico com todas as histórias das mães presentes no filme. A mais surpreendente é a da minha mãe, nós nunca tínhamos falado sobre isso. É muito revelador.”
Há ainda uma camada performática, em que elas se fantasiam de estereótipos da maternidade. “Uma coisa bem Agnès Varda.” Antes de assumir a direção, Patrícia atuou como curadora do Festival do Rio, onde trabalha até hoje, e dirigiu curtas e programas para o GNT.
“Tive muita dificuldade durante a vida inteira de me chamar de diretora. Amigos recém-saídos da faculdade falavam que eram. Mulher, com qualquer ofício, é sempre mais difícil de se sustentar, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo.”
Patrícia inspira-se no trabalho de diretores como Valentina Homem, Lilla Hallah, Glenda Nicácio e André Novais. “Estamos chegando num momento em que sucesso de festival tem correspondido com sucesso de público.” Sobre o lançamento do longa, com estreia prevista para maio, a cineasta afirma sentir uma “realização visceral”.

Publicado em VEJA São Paulo de 3 de janeiro de 2025, edição nº 2925


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO